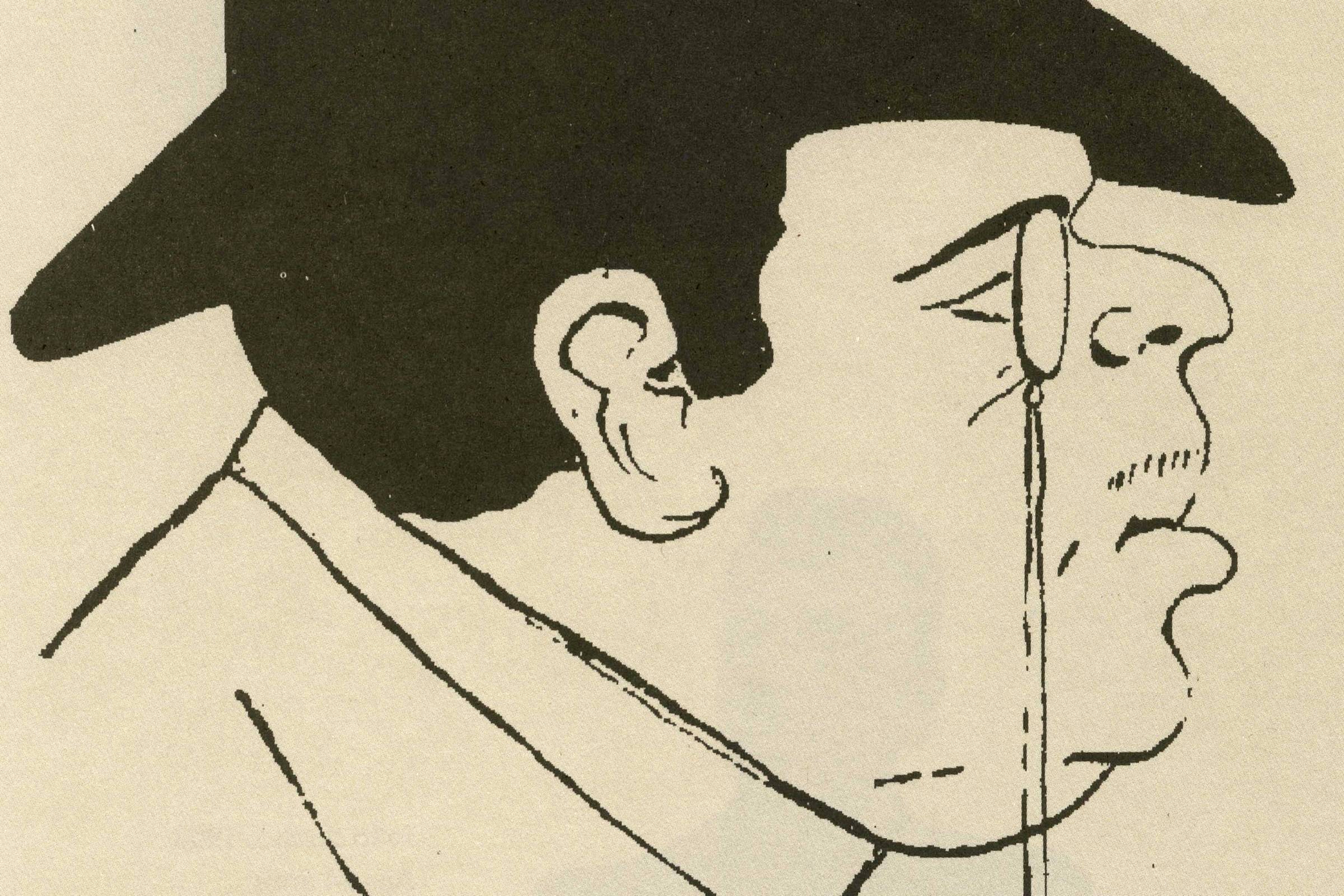“A religião?”, João do Rio lança aos seus leitores em “As Religiões no Rio”. “Um mysterioso sentimento, mixto de terror e de esperança, a symbolização lugubre ou alegre de um poder que não temos e almejamos ter, o desconhecido avassalador, o equívoco, o medo, a perversidade…”
Ao folhear os jornais, um incauto poderia até se ver num país essencialmente católico. Tolice, escreve ele. “A cidade pulula de religiões. Basta parar em qualquer esquina, interrogar. A diversidade dos cultos espantar-vos-á.”
Quando fala das crenças esparramadas pelo Rio de Janeiro naquele prelúdio do século 20, o autor talvez soe tão defasado quanto a grafia original de sua prosa. Cronista dos mais populares em sua época, João Paulo Barreto é um homem do seu tempo. Não está imune aos preconceitos dos seus contemporâneos com a religiosidade paralela ao status quo.
O homenageado da Flip, que começa nesta quarta e vai até domingo em Paraty, ele lançou há 120 anos esta coletânea de crônicas sobre o caleidoscópio religioso carioca.
Isso por si só já é um feito: enxergar além do domínio católico, apresentando às elites um Rio de “pagãos literários, defensores de dogmas exóticos, reveladores do futuro, amantes do Diabo, babalaôs de Lagos” —enfim, “todos os cultos, todas as crenças, todas as forças do Susto”.
Só não ignora por completo o catolicismo porque fala de frei Piazza, um exorcista que devolvia vaias de detratores com beijos, “e cada beijo seu no ar petrificava a boca de um dos imprudentes insultadores”.
O cronista também toma interesse pelas igrejas evangélicas, àquela época formadas por linhas como metodistas e presbiterianos. Falou, por exemplo, da Igreja Evangélica Fluminense, até hoje em atividade. Primeira congregação no Brasil a pregar em português, foi fundada em 1858 por um escocês, Robert Reid Kalley. João o chamou de “homem rico e feliz”, disposto a trocar a ilha da Madeira por uma “cidade bárbara, feia, cheia de calor”.
O autor se mostra pasmo com a proliferação dessa linhagem cristã. “As igrejas evangélicas abundam entre nós, pastor”, diz a um interlocutor.
Anotará quando escutar que “os evangelistas serão muito brevemente uma força nacional, com chefes intelectuais, dispondo de uma grande massa”, e com um deputado no Congresso Nacional —o que demoraria ainda três décadas. O primeiro foi Guaracy Silveira, do socialista PSB, que lutou contra o ensino religioso nas escolas por temer monopólio católico na disciplina.
Emergem dos textos de João do Rio um ranço racista sobretudo contra religiões de matriz africana, populares num Brasil que havia abolido a escravidão não tinha nem duas décadas. “Ele foi um intelectual num Rio que desejava ser moderno, católico, branco. Mas não era”, diz Carolina de Castro Wanderley, que estuda o autor em seu doutorado na UFRJ.
Tudo a Ler
O sociólogo Muniz Sodré diz que João “incorporou a atmosfera preconceituosa da época” sobre essas religiões. “Não era um racista militante ou um eugenista como foi Monteiro Lobato, mas nos livros dele o racismo aparece.”
“Obviamente”, frisa o autor de “Pensar Nagô” e colunista da Folha, “não podemos julgá-lo retrospectivamente com os olhos de hoje”. Sua grande virtude foi ter conhecido de perto uma realidade ignorada no andar de cima. “Ele inaugurou, de certo modo, o jornalismo de ir ver e escrever. Não falou de dentro da Redação.”
A primeira parte da obra fala do “Mundo dos Feitiços”, farto no “olhar elitista de uma classe para a outra”, afirma Wanderley. O preconceito está lá, como quando se refere a filhas de santo do candomblé como “as demoníacas e as grandes farsistas da raça preta, as obcecadas e as delirantes”.
Ela lembra que o próprio escritor era negro, “mas tentava se enquadrar num mundo branco”. João não deixava de destacar, contudo, que “esta mesma elite tem fascinação pelo ‘feitiço’, vive o buscando, apesar de no domingo ir bem vestido à Igreja Católica”.
Pouco restou daquele Rio de Janeiro testemunhado pelo autor.
Sentado num boteco em frente ao Cais do Valongo, que serviu como maior porta de entrada de escravizados, o babalaô Ivanir dos Santos aponta que João viveu perto de uma época de catolicismo como religião oficial. A capoeira era criminalizada, mas não eram raras as mulheres da nobreza “que iam se consultar com Juca Rosa”, o pai de santo mais conhecido do século 19.
Era uma relação que se equilibrava na ambiguidade e na hipocrisia, segundo o babalaô, que é doutor em história pela UFRJ.
O Valongo fica numa área conhecida como Pequena África, pela outrora concentração de sequestrados pela escravidão. Os terreiros se multiplicavam ali por valores além do espiritual.
“A casa de santo era o SUS do pobre”, diz Santos. Era comum que a população negra da classe baixa recorresse a banhos de erva para curar moléstias. Não só ela, aliás. Ícone do samba e mãe de santo, Tia Ciata foi chamada para tratar uma ferida na perna do então presidente Venceslau Brás, nos anos 1910. Deu certo.
Tido como memória viva da região, Rubem Confete fala com a reportagem no Armazém Senado, inaugurado no centro carioca três anos após o homenageado da Flip lançar “As Religiões no Rio”.
A região era “uma torre de Babel” de línguas africanas, diz. Espaços religiosos se avizinhavam às Casas de Engorda, onde o escravizado se recuperava de debilidades para ser vendido —uma placa no Valongo rememora o anúncio “vende-se ama de leite”.
O fervor religioso registrado por João do Rio abrandou com o tempo. “O pessoal foi migrando para outros lugares”, principalmente após o “bota-abaixo” higienista do prefeito Pereira Passos. Muitos se mudaram para a Baixada Fluminense.
Hoje, a falta de diversidade dos cultos por aquelas bandas espantar-vos-á.